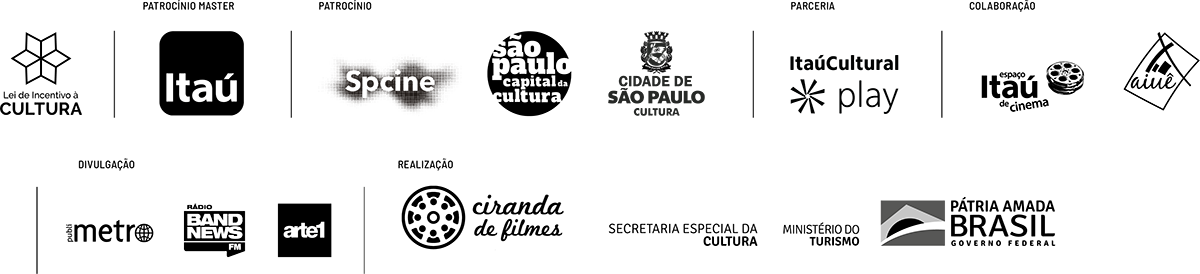o-
lha-
res
10/08/2016
Representações infantis nas artes
Rio de Janeiro, século 18. Entre a população escrava que crescia com os navios negreiros que incessantemente cruzavam o Atlântico, as crianças representavam dois entre cada dez cativos. Algumas eram doadas ao nascer; outras, já no fim da infância, vendidas. Com altíssima taxa de mortalidade infantil, a maioria morria antes de completar cinco anos de idade. E aquelas que persistiam enfrentavam a orfandade.
Se em muitos estudos as crianças são números, ainda que contextualizados, na exposição “Histórias da Infância”, no Museu de Arte de São Paulo (Masp), meninos e meninas ganham corpo, cara e também voz, em diferentes tempos e espaços. Numa incursão por muitas infâncias – a das crianças do período Colonial, de povos indígenas, dos faróis das cidades grandes –, a exposição constrói uma ideia de infância por meio da arte e mostra como as crianças foram representadas ao longo de séculos.
Assim como Philippe Ariès, pesquisador francês que fez uma radiografia da infância a partir da Idade Média a partir das imagens (ou falta delas) representadas na arte pictórica, a exposição leva o espectador a tecer ideias de infância por meio das 200 obras expostas, organizadas por sete eixos temáticos – maternidade, escola, família, brincadeiras e morte, por exemplo – e dispostas na altura do olhar das crianças visitantes, estabelecendo um diálogo entre infâncias.
Fotografias, pinturas, vídeos e esculturas de artistas diversos como Renoir, Van Gogh e Portinari são misturadas a desenhos feitos pelas crianças, “desrespeitando hierarquias e territórios”, como bem define um dos textos curatoriais. Tal postura rapidamente nos remete a uma lúcida provocação do modernista Mario de Andrade, que não só colecionou desenhos infantis, como fez importantes leituras a partir dessas criações: “Primeiro: nós não damos importância ao que o menino faz. Acha-se graça e apenas. Segundo: damos importância por demais ao que os gênios catalogados fazem. Acha-se importante e guarda-se.”
A ideia de infância é uma construção social e varia conforme a época e a sociedade. Segundo Ariès, até o século XII, a arte medieval desconhecia a infância. Homens miniaturizados, sem nenhum traço de infância, muitas vezes faziam as vezes das crianças nas obras, num tempo em que nasciam e morriam, “não sem tristeza, mas sem desespero”, como escreveu décadas depois o humanista Montaigne (1533-1592). A ordem, definiu o filósofo, era “não reconhecer nas crianças nem movimento na alma, nem forma reconhecível no corpo”.
Só lá pelo século XIII é que surgem representações de crianças um pouco mais próximas do sentimento moderno. Como a teologia acompanhará a representação da infância por muito tempo, um dos modelos mais recorrentes na arte pictórica é o do Menino Jesus, “ancestral de todas as crianças pequenas na história da arte”. Vestido com camisolas ou enrolado em cueiros, tal representação ganha também destaque na exposição.
Ali, entre as imagens que tratam dos temas natividade e maternidade, estão também fotografias que trazem as amas de leite negras com crianças brancas no colo, “uma face supostamente romântica das escravidão”, da “mãe negra dadivosa”. São retratos anônimos, pouco sabemos quem são essas mulheres que cuidam de pequenos senhores cujas identidades são geralmente reveladas.
Ao adentrar a exposição, a contraposição de obras provoca o olhar do espectador. Assim, uma pintura de duas meninas brancas, bochechas rosadas e vestidos de babados está disposta ao lado de uma fotografia de dois meninos negros, descalços e trajando sungas num piscinão.
Com gritante distância social entre as crianças retratadas, a primeira imagem é “Rosa e Azul”, as irmãs Alice e Elizabeth, filhas do banqueiro Cahen d’Anvers, representadas com doçura na pintura de Renoir. Já a fotografia (Sem Título, da série Brasília Teimosa), com os dois meninos de olhares convincentes, é de Bárbara Wagner. Apartadas de modo temporal, as duas imagens têm muito a revelar sobre o exercício de ser criança.
Percorremos a infância do nascimento à morte, tema que traz a emblemática obra “Criança Morta” (1944), de Cândido Portinari, além de “O Enterro”, de Jose Pancetti, e “Cemitério Caiçara” (1989), do fotógrafo Araquém Alcântara. Mais uma vez dialogando com o viés histórico da obra de Ariès, representações de crianças mortas, em retratos colocados em túmulos, começam a surgir por volta do século XVI. É um marco na história dos sentimentos relacionados à infância, cujos altos índices de mortalidade banalizavam sua (in)existência por muito tempo.
A partir do século XVII, as crianças passam a ser retratadas sozinhas, como na obra “Retrato de John Walter [ou Wharton] Tempest” (1779-80), de George Romney, que traz um menino-cavaleiro com vestes nobres. Ao seu lado, um outro menino, de um outro tempo, uma outra infância: a fotografia de “Vendedor de Amendoim” (1990), de Luiz Braga. São muitos os retratos que nos revelam as crianças em poses que encaram o espectador, às vezes de forma mais pueris, às vezes mais inquisidoras.
No eixo educação da exposição, ganha destaque a obra “O Escolar” (1888), de Van Gogh, mas nosso olhar é facilmente atraído para uma fotografia em preto e branco que tem um menino de calças curtas de castigo, virado para um canto da sala de aula. A escola nasce com o surgimento da infância, e a representação do espaço escolar como lugar das regras e das punições se contrapõem aos momentos livres, de brincar, nos espaços públicos.
Crianças indígenas, com corpos nus pintados, sendo “educadas” (“domesticadas”?) na mesma ideia de escola, com carteiras, cadernos e lápis, parecem pouco se encaixar ao sistema na fotografia “Escola Kayapó” (1991), de Milton Guran.
As crianças nos fitam. Estão na série “Crianças de Açúcar”, de Vik Muniz, feitas com filhos de trabalhadores das plantações de cana do Caribe; na onírica “Menino-anjo” (1963), de Maurren Bisilliat; num retrato anônimo de Dom Pedro II, imobilizado pelas vestes nada apropriadas para seu corpo de menino.
Numa das paredes da exposição, entre obras de dimensões agigantadas e entre uma diversidade de olhares para a infância, uma caixinha de Rochelle Costi, “Intimidades – A Vesga Sou Eu” (1984), pode passar despercebida. Mas ela sintetiza de forma poética e metafórica esse tempo-menino de muitas representações. É um inventário de pequenos restos e nadas – botões, fotografias, fitas de cetim – da infância.
Texto: Gabriela Romeu